
Mariana Nicastro e Vitória Vulcano
Um funeral. Familiares fazendo perguntas pessoais. Sobre seu futuro, sua profissão (que eles não levam muito a sério), seus relacionamentos, seus estudos (não tão credibilizados também)… sim, tudo aquilo que você não gostaria de comentar no momento. E se, além disso, uma paixão antiga está presente, e o romance não terminou tão bem? Parece uma situação desconfortável, certo? E se seu ficante, que, na verdade, é o seu sugar daddy, aparece no local?
Ah, mas tem a cereja do bolo! E se ele leva a esposa e um bebê, que você nem sabia que existiam? E, é claro, que todos os seus parentes querem te apresentar a essa linda e simpática família! Esse é o cenário caótico, curioso, intrigante, sufocante, angustiante e singular representado em Shiva Baby. Um filme ousado, que mescla perfeitamente a comédia e a tragédia social.
O longa é uma coprodução internacional entre Estados Unidos e Canadá, lançada, no Brasil, pela plataforma MUBI, em abril de 2021. Escrita e dirigida por Emma Seligman, que aqui estreia na direção, a obra é uma expansão adaptada do curta-metragem, de mesmo nome, desenvolvido por ela em 2018. O curta foi seu projeto de tese enquanto estudante na NYU (Universidade de Nova York) e, ainda que a cineasta não soubesse se seria possível estendê-lo, essa sempre foi sua intenção.

Acompanhamos tudo pelo ponto de vista da jovem Danielle, interpretada por Rachel Sennott. A universitária é uma garota judia e bissexual em sua missão de administrar o fim de uma graduação, os planos de seu futuro profissional e – secretamente – ser uma sugar baby em meio período. O enredo a leva até um shivá, uma reunião judaica para família e amigos, em um momento de luto. Lá, a personagem de Sennott se vê presa em um dia de puro terror ao encontrar seu sugar daddy Max (Danny Deferrari), e ser obrigada a manter a postura enquanto tudo ao seu redor parece conspirar contra sua estabilidade emocional.
Em sua essência, o que a trama busca representar é a iminência da vida adulta. Seria ela um incômodo ou um convite? A pergunta ecoa por diversas situações dentre os 77 minutos de duração da obra, parecendo clamar por uma resposta durante todos os momentos em que Danielle é atacada por emergências familiares e amorosas (e um bebê grita desesperadamente, em segundo plano).

A motivação para a história partiu, primeiramente, da diretora, judia e bissexual como a protagonista gerada por ela. Seligman se viu em um fogo cruzado entre pressão familiar e opressão sexual, sentindo necessidade de confrontar essas ansiedades em um papel de dualidade – uma menina legal e muito inclinada aos pais, mas, também, jovem e sexy com seu sugar daddy.
Contudo, aqui, os incentivos da criação são bem familiares. Emma assistiu Palo Alto muitas vezes enquanto elaborava Shiva Baby, ressaltando que nunca conheceu uma obra tão certeira em retratar a sufocante e debilitante natureza das inseguranças das mulheres jovens. Os longas de John Cassavetes e os thrillers psicológicos, como Cisne Negro, também ajudaram a construir o roteiro do filme. Outras inspirações vieram de Krisha e Transparent, produções que exploram da comédia ao drama. Esses reflexos são muito evidentes nos fluxos e variantes entre pânico e ironia, presentes nas catarses da diretora.
“Para muitas mulheres jovens, tentar serem meninas legais com carreiras seguras à frente enquanto ainda tentam ser independentes e ter liberdade sexual pode ser um caminhar para insanidade. Espero que elas consigam assistir esse filme e se sentirem vistas em suas inseguranças e reconhecidas por suportarem as pressões contraditórias e sufocantes pelas quais precisam passar. Espero que consigam encontrar um pouco de humor e alívio nessa história”.

A cineasta ainda exalta que sempre teve a preocupação de escalar artistas judeus para o elenco, mas que não necessariamente precisava de uma totalidade. A própria escalação de Dianna Agron é um pouco controversa: uma atriz judia que, mesmo assim, atua como a única personagem que não participa da religião. Nas palavras da própria diretora, o mais importante era que ela sentisse conexão entre os atores e personagens, uma compreensão entre a mensagem da história e quem deveria interpretá-la.
Além de Dianna, Danny Deferrari e Molly Gordon completam o elenco contracenando com momentos dolorosos e divertidos. O destaque, entretanto, está nas mãos de Rachel Sennott, que lidera a mise-en-scène com destreza. É possível compreender seus sentimentos mesmo sem uma única palavra sendo dita. Nervosismo, vergonha, ódio, incômodo – são algumas das diversas emoções perfeitamente traduzidas pela atriz.

A trama do filme também instala uma ansiedade inebriante, que induz a uma atmosfera conhecida: a representação sufocante da família. Como se já não bastassem os questionamentos internos, a protagonista é constantemente obrigada a lidar com o desconforto de pais invasivos, que enxergam a proximidade afetiva com a filha como premissa para tomarem decisões por ela. A saturação mental a qual Danielle é conduzida ao longo da narrativa encontra sua força motriz nesse empenho exacerbado em exigir da garota mais do que ela pode ou deve confabular.
As situações que Shiva Baby entrega se desenrolam em aleatoriedades constrangedoras, realizadas com fluidez. O longa também evoca risos de desespero, constrangimento e preocupação pela protagonista. Beirando a insanidade, os diálogos são muito realistas, mobilizando a perturbação e o alívio a atingem o espectador com punhaladas emocionais, diluídas e pontuais.
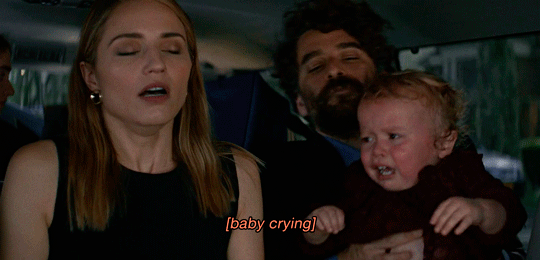
Os acontecimentos são sucedidos praticamente em tempo real e na mesma localidade. Tudo ocorre quase inteiramente em um velório, dentro de uma casa, o que contribui para a ideia de claustrofobia e reforça o aprisionamento de Danielle na tribulação em questão. Assim, pela variedade de gêneros cinematográficos abordados e produções tidas como base para a concepção do longa, o trabalho de gravação e montagem (a cargo de Hanna A. Park) precisou ser minuciosamente desenvolvido.
O uso de planos subjetivos marca a fotografia de Maria Rusche. As proximidades datadas por ela são íntimas o bastante para refletir, no público, as emoções afloradas em tela. Nos conectamos com a angústia, a raiva e o medo através dos olhos de Danielle, já que são eles que comandam os cortes de cena. Por se aproximar tanto do espectador, a angulação de câmera ainda o equipara às dúvidas e aos anseios da protagonista.
A trilha sonora de Ariel Marx merece destaque igualmente. Toda a musicalidade é pensada para coreografar a versatilidade dos momentos ao ambiente tensional e não deixar de fisgar quem assiste. Esse conjunto desencadeia a empatia televisiva, o humor em situações bizarras e o suor da ebulição caótica. Afinal, dançar conforme a música é um dos fantasmas de Danielle.

A complexa mira assertiva da tecnicidade de Shiva Baby não contribui apenas para figurar morte, adultério e as muitas formas de independência buscadas por Danielle em apreensão cênica. Temas como maternidade e distúrbios alimentares conseguem ser sutilmente aproximados e lançados com inteligência, considerando o espaço disponível para outras importâncias no conjunto. E tratar de tópicos tão distintos e relevantes, sem pecar pela banalidade de discursos prontos ou pelo esgotamento criativo, é uma dádiva que Seligman soube alcançar.
Em uma realidade tão exaustiva e controladora, a produção também surpreende pelo espectro escolhido para retratar a sexualidade. O vínculo entre Danielle e Maya é ressuscitado com muita naturalidade, primeiramente pelos ataques rancorosos de orgulhos feridos, e posteriormente pela paixão remanescente. E, no leque de dúvidas e preocupações da protagonista, sua bissexualidade jamais participa. O amor nutrido por Maya é um dos poucos refúgios guardados pela personagem de Sennott, o que o torna o que precisa ser: admirável, consolador, livre.

O panorama geral induz à idealização de uma combustão sem precedentes, conforme o longa caminha para seu clímax: pancadaria, gritos e até uma casa em chamas. Mas a explosão simplesmente não acontece, e o filme esboça mais um riso no espectador. Todas as irregularidades, visíveis ou não, se chocam na van que abriga os personagens principais ao término da narrativa. Com os esperneios permanentes da bebê Rose tilintando pelas janelas do automóvel, presenciamos o desfecho sabendo que não foi a decisão mais expressiva para o momento.
No entanto, apesar de omitir a merecida exploração dos minutos finais, a obra mantém regularmente sua proposta central junto à efervescência descompassada. Uma combinação eficaz para vivificar o enredo, principalmente aos olhos da crítica. Grande parte da aclamação de Shiva Baby também é fruto da representação judaica e bissexual condizente e capaz de fazer públicos de fora dessas comunidades entenderem a trama e se interessarem por ela.

O debut de Emma Seligman como diretora acontece em turbulências de veias cômicas e incômodas, o que torna seu trabalho ainda mais profundo e cuidadoso. Escancarando tabus e fundindo estilos cinematográficos, a canadense não se desilude em mesmices e usa sua criatividade para contabilizar novas trajetórias na indústria. Em suma, nem mesmo o fim pouco chocante de Shiva Baby desperdiça a imersão impactante que ele consegue produzir.
Mergulhamos na trama porque, buscando a racionalidade ou tropeçando em melodramas, todos compartilhamos do caos que constrói Danielle. A identificação com a protagonista transita por muitas camadas, mas termina no mesmo lugar: a miscelânea emocional que é a juventude. Muitas experiências nos perpassam e, em certo ponto, precisamos escolher quais nos moldarão de verdade. No final do dia, somos o que somos e lutamos para que continue a ser assim. Pode não ser obrigatoriamente reconfortante, mas te lembra que está vivo. Aqui ou em um shivá, existe algo mais tragicômico que isso?
