
Bruno Andrade
“Consumista” já foi a palavra de ordem de uma geração que, em um passo ousado, julgava os relativos perigos de uma sociedade descontrolada – talvez como consequência direta da mudança social dos anos 1960, cuja virada cultural permanente se estabeleceu e desembocou no mal-estar das décadas seguintes. Mas o fato é que o julgamento parecia resfriar-se em um sólido cenário teórico, e ironicamente se perpetuava, muitas vezes, por aqueles que o apontavam. O consumo estava em toda parte. Em Ruído Branco, adaptação dirigida por Noah Baumbach do clássico homônimo de Don DeLillo publicado em 1985, outras facetas do consumo – para além da alienação – ganham espaço: o entretenimento vulgar, o delírio e a paranoia.
White Noise (no original) traz a dependência televisiva logo no título. Originalmente, DeLillo pretendia chamar o livro de Panasonic, mas a empresa vetou a utilização do nome. Mantendo a ideia de fazer alusão à TV, o autor cunhou “Ruído Branco”, expressão técnica para o que se convencionou a chamar de “chiado na televisão”, a imagem obstruída pelo som agonizante da falta de sinal. Todavia, na trama, o ruído branco pode muito bem ser, de forma alegórica, o medo da morte, que paira pela vida das personagens silenciosamente, obstruindo suas consciências. Seguindo a história do protagonista Jack Gladney (Adam Driver), tanto o livro como o filme traçam um paralelo quase perfeito entre o consumismo e o medo da morte.

Talvez pelas implicações que um novo formato pede, e mesmo mantendo-se fiel à trama, Ruído Branco não tem o mesmo peso que o romance – mas não se trata, aqui, da velha dicotomia livro-é-melhor-que-o-filme. Baumbach, que além da direção, assina o roteiro adaptado, opta por não retratar alguns momentos da história original. Na obra literária de 1985, a filha mais jovem de Gladney participa de uma simulação do governo, na qual situações de vazamentos tóxicos são treinados por civis e policiais, aumentando o ar conspiratório de que tudo, na verdade, pode ser um truque estatal para manter a sociedade funcionando pelo medo. Mesmo que a cena não ocorra no longa, a SIMUVAC, órgão ficcional do Estado cuja abreviação significa “evacuação simulada”, aparece na segunda parte do filme.
“Murray diz que somos criaturas frágeis cercadas por um mundo de fatos hostis. Os fatos ameaçam a nossa felicidade e segurança. Quanto mais nos aprofundamos na natureza das coisas, mais frouxa a nossa estrutura nos parece. O processo da família visa ao isolamento em relação ao mundo exterior” (DeLILLO, 2017, p. 102).¹
Além de cortar “o celeiro mais fotografado da América”, o cineasta também decidiu ocultar Vernon Dickey, pai de Babette (Greta Gerwig), que na obra original é o responsável por entregar a pequena pistola ao protagonista, utilizada no clímax da história. No estilo conservador armamentista, esse personagem o presenteia com os dizeres “existem dois tipos de pessoas no mundo: as que morrem e as que matam”.
Ausente no longa, a cena e a fala são inseridas na boca de Murray Siskind (Don Cheadle), o eloquente amigo de Jack que pesquisa sobre a televisão e cobiça repetir seu feito e iniciar os “estudos sobre Elvis” na universidade. Mas, à medida que o roteiro avança, percebe-se que o foco são os costumes contemporâneos – mesmo retratando a sociedade norte-americana dos anos 1980 –, tomando isso como um norte, enquanto alguns vícios esquisitos, como o delírio coletivo pela violência ou a inexplicável dificuldade em lidar com a realidade, são representados pela visão do protagonista.

A essência da trama remonta à clara afeição que o cineasta mantém em relação ao livro. Em obras anteriores, Baumbach retratou grupos disfuncionais em suas falsidades, que, comumente, rompem no limiar entre o falso moralismo e o mal-estar – como em História de um Casamento (2019), Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe (2017) e A Lula e a Baleia (2005). Nesse aspecto, Ruído Branco não está tão longe do campo que o autor estadunidense domina, visto que segue uma família particularmente diferente, na qual todos são demasiadamente autoconscientes, principalmente os filhos. A adaptação ainda é “mais diferente” que os longas anteriores, como o próprio diretor declarou, porque preocupa-se principalmente com uma atmosfera paranoica e espetacularizada da realidade.
Ainda assim, em diversos momentos o filme deixa pontas soltas que são explicadas apenas no livro. Há uma enorme complexidade na tentativa de reduzir as dezenas de frases impactantes de Don DeLillo em cenas rápidas, e Baumbach tenta sintetizá-las nos diálogos. Apesar disso, principalmente no final, é praticamente impossível entendê-lo em sua totalidade sem ter lido a obra original. Mesmo que permaneça na Comédia Dramática – inclusive com André 3000 integrando o elenco –, seu mote sustenta-se em assuntos existencialistas e filosóficos, que idealmente devem ser transmitidos ao espectador sem exigir conhecimento prévio. Por reivindicar implicitamente a pesquisa, é um filme que dificilmente consegue o consenso.

Paradoxalmente, enxergar o mundo em sua extensão é remetê-lo à noção de compreensão humana. Por isso, ao trazer sua complexidade ao espectro de nossos sentidos, nos esforçamos para alcançar a distância correta entre o que somos e o que pensamos ser – tudo ganha um ar de familiaridade. Como Jean Baudrillard escreve, a interconexão entre o consumo e a vida cotidiana deixa de ser questionada pelos indivíduos, “praticamente inconscientes, na vida de todo dia, da realidade tecnológica dos objetos”.² No mundo onde a simulação é gerada por um real sem origem nem realidade – chamado pelo filósofo de “hiper-real”³ –, os objetos multiplicam-se ao infinito, pois precisam preencher uma “realidade ausente”. O consumo e a solidão são inseparáveis.
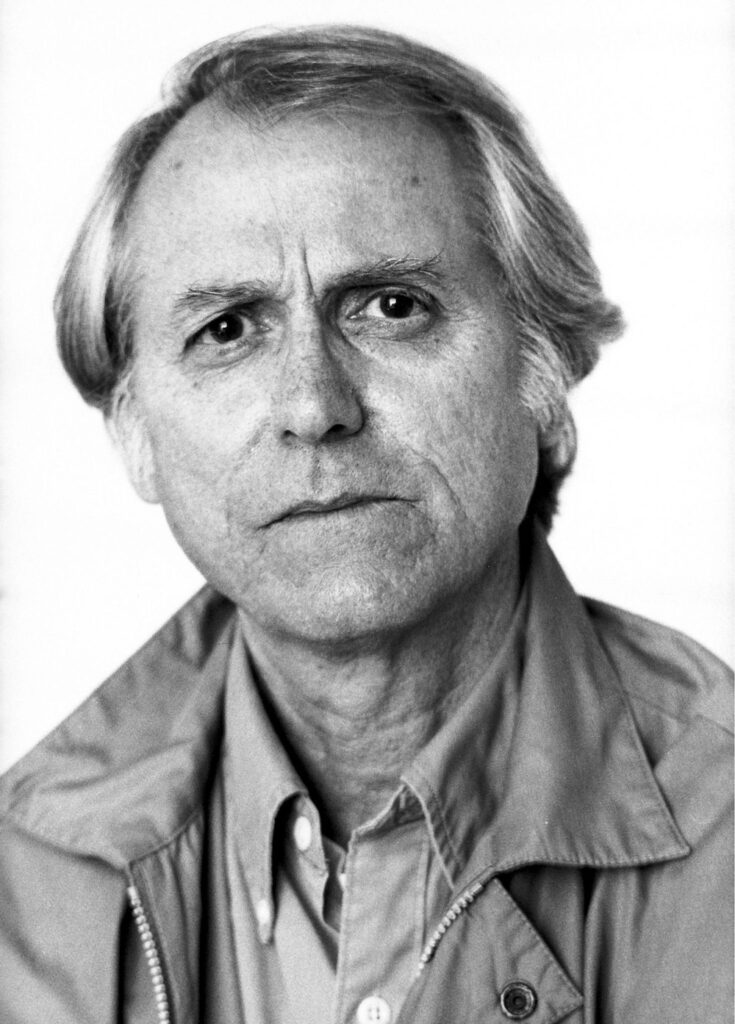
Historicamente, Ruído Branco teve três tentativas fracassadas de adaptação, antes da finalizada por Noah Baumbach. Desde os anos 1990, James L. Brooks (Laços de Ternura, 1983), Barry Sonnenfeld (MIB – Homens de Preto, 1997) e Michael Almereyda (Hamlet, 2000) tentaram a empreitada, mas abandonaram o projeto. Seguindo a linhagem dos “romances de sistema” – que se preocupam principalmente com o desenvolvimento dos mecanismos de poder sobre os personagens –, o livro e o estilo de Don DeLillo (extremamente sugestivo e, por vezes, até mesmo minimalista) dificultam qualquer roteiro cinematográfico, que precisa “mostrar” ao espectador situações que não são explicadas – e nem precisam ser – na Literatura. Esse tom sugestivo abre janela às interpretações “distópicas”, algo que, acertadamente, o diretor não explora.
Contudo, mesmo que Cosmópolis (2003) tenha sido adaptado de forma interessante por David Cronenberg em 2012 (com Robert Pattinson no papel principal), White Noise tem um peso ainda maior: trata-se – ao lado de Submundo (1997) – da obra fundamental do autor, um clássico da Literatura norte-americana analisado em universidades e vencedor do National Book Awards, cujo impacto foi tão grande que projetou DeLillo como um dos melhores observadores da vida no capitalismo tardio. A simples trama do livro já parte de uma premissa complexa: a existência é indistinguível da “imitação” da realidade e do espetáculo das relações sociais.

Embora existam comparações, também é interessante observar que Ruído Branco não é o novo Não Olhe para Cima (2021) – e isso é bom, para Baumbach. É sempre importante entender as dificuldades na adaptação de uma obra cinematográfica cujo roteiro surge de um livro clássico, mas, diferente do filme de Adam McKay, mesmo que algumas pontas permaneçam soltas, o texto original fornece um material impecável de discussão, que se sustenta nas atuações e permanece distante do debate conformista. É nesse ambiente que Adam Driver ascende como o grande destaque de atuação, segurando as nuances entre Comédia e Drama com habilidade. Pelo papel de Jack Gladney, Driver concorreu ao Globo de Ouro pela terceira vez, na categoria de Melhor Ator em Comédia ou Musical, mas perdeu para Colin Farrell.
A trilha sonora de Danny Elfman, porém, é apenas curiosa. Misturando elementos da Música Eletrônica com a Clássica, ele auxilia na ambientação cultural de um Estados Unidos pós-industrial, a um nível quase distópico. O grande mérito musical fica a cargo da canção original de LCD Soundsystem – uma faixa dance punk que serve como melodia para a dança ensaiada dos créditos no fim –, vocalizada pelo líder do grupo, James Murphy, que colaborou com o diretor nas trilhas originais de Greenberg (2010) e Enquanto Somos Jovens (2014).
De forma vertiginosa, o longa explora a expectativa social pela catástrofe. Em alguns trechos, quando o acidente tóxico já ocorreu e dominou o imaginário conspiratório da população, o diretor dá piscadelas no roteiro à recente situação da pandemia de covid-19, jogando luz aos comentários negacionistas que são aplaudidos por Jack Gladney. Na verdade, o coronavírus revitaliza, de maneira incômoda, a obra original, apresentando o desastre como um fenômeno cíclico nas sociedades contemporâneas. O cineasta também se recusa a atualizar a história em seus figurinos e panorama social, mantendo a ambientação original de DeLillo – com todas as conspirações da Guerra Fria às quais o país estava submetido – e apontando para o caráter premonitório da obra.
A ânsia de Baumbach em presentear os espectadores com as melhores partes do romance faz com que diversos trechos de desenvolvimento de personagens sejam deixados de lado. Repentinamente, a partir da segunda parte, a trama muda para um cenário que beira o sci-fi, e volta a se pacificar próximo ao fim, quando as melhores sequências de Ruído Branco são protagonizadas por Greta Gerwig e Adam Driver na revelação sobre o “Dylar” e, logo em seguida, no diálogo entre o protagonista e o Sr. Gray (Lars Eidinger). A crueza com que Baumbach grava o embate, os tiros e a paranoia humanizada no papel de Eidinger registra uma perda da capacidade da linguagem para discernir ou até mesmo entender o mundo, que está “repleto de fatos hostis” a nós.
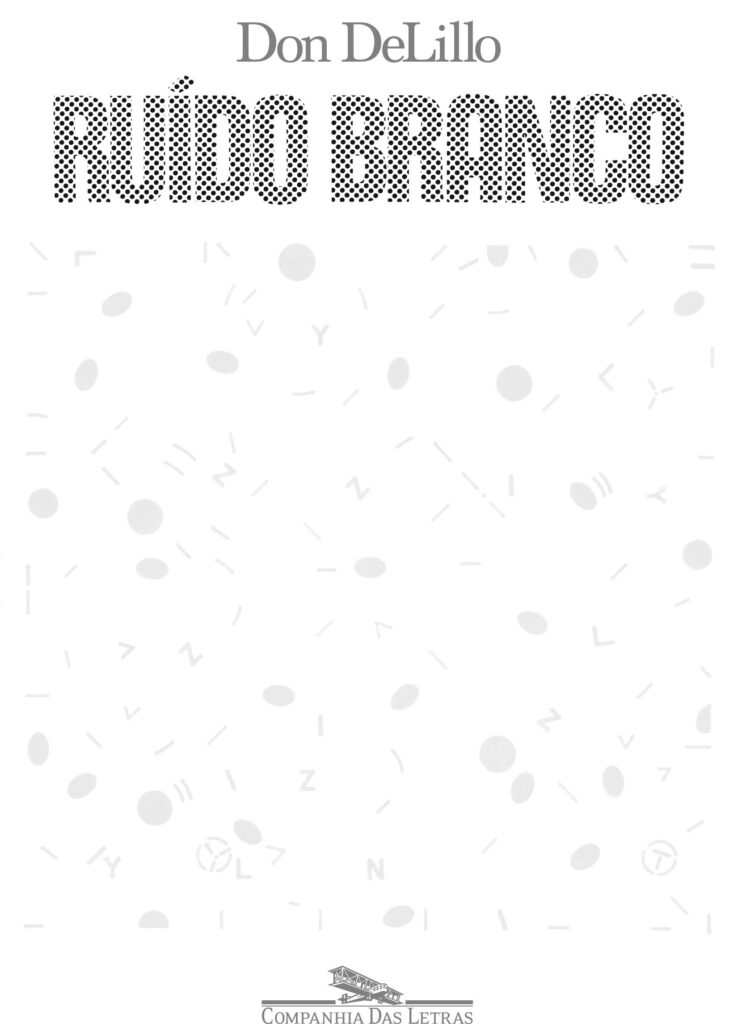
Ao deixar de lado as potencialidades criativas de um novo formato, a obra convence e se sustenta pela história: há um pavor ecológico, há universitários espetacularizando o ensino (Slavoj Žižek poderia ser um personagem), há negacionismo e há ironia – tudo tão longe e tão perto de nós. No fim, ainda podemos sublimar nossos desejos e ir às compras, enganando a nós mesmos.
¹ DeLILLO, Don. Ruído Branco. 2ª ed. Tradução de Paulo Henriques Britto. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
² BAUDRILLARD, Jean. O sistema dos objetos. 5ª ed. Tradução de Zulmira Ribeiro Tavares. São Paulo: Perspectiva, 2015, p. 11.
³ BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e simulação. Tradução de Maria João da Costa Pereira. Lisboa: Relógio d’Água, 1991, p. 8.
