
Vitor Evangelista
Martin Scorsese é um diretor de excessos. O gênio do cinema já se aventurou por uma série de gêneros e estilos, todavia, foi contando histórias de mafiosos e italianos que ele encontrou louros. É claro que não podemos definir e limitar seu cinema a isso, algo assim seria um equívoco sem igual. Mas o imaginário popular e qualquer busca rápida sempre leva o nome de Scorsese casado à produções como Os Bons Companheiros (1990) ou Cassino (1995). O elemento que amalgama a arte de Martin, e seu discurso cinematográfico como um todo, é também o cerne das aventuras que decide contar: o legado que os homens deixam para o futuro. E em O Irlandês, no terreno conhecido de caras maus e crimes à luz da lua, Scorsese maquina seu primoroso pedaço de arte.
A história é centrada na figura de Frank Sheeran, o tal irlandês que dá nome a produção. Interpretado com um maniqueísmo eletrizante por Robert de Niro, o ‘pintor de casas’ se envolve na máfia ítalo-americana chegando também a se emaranhar no desaparecimento de Jimmy Hoffa, líder sindical, em 1975. Enquanto Scorsese ilumina De Niro, outras duas importantes figuras circundam as 3 horas e meia de filme.
São elas Joe Pesci e Al Pacino. Pesci, saindo da aposentadoria, é Russell Bufalino, líder do clã mafioso e melhor amigo de Frank. A performance de Pesci é reflexo direto de seu legado no cinema de máfia. Normalmente na pele de personagens bobalhões ou simples alívios cômicos, em O Irlandês seu Russ é a figura mais cativante e enigmática da produção. O ator demonstra por olhares, gestos físicos e com uma fisicalidade absurda o peso do fardo que leva nas costas, e ainda é um deleite de ser assistido ao lado de De Niro.
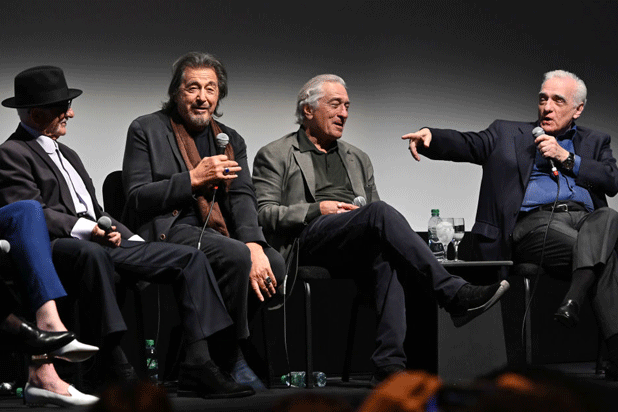
Ao passo que Pesci representa vitalidade na coluna de O Irlandês, essa máxima não pode ser aplicada a figura de Al Pacino e seu personagem Jimmy Hoffa. Toda a trama do filme se encaminha para o suspeito desaparecimento de Hoffa no meio dos anos 70. No entanto, a inserção do personagem na trama demora um tanto a acontecer e seu efeito imediato é notável. A troca imagética e verbal entre De Niro e Pesci flui belamente, sem qualquer percalço ou enfrentamento. Se, por algum acaso do destino, O Irlandês se focasse exclusivamente numa releitura das aventuras e experiências de Russel e Frank, não haveria problema algum. O que complica a equação é a perda de ritmo e tom que o filme sofre quando Hoffa é colocado em tela.
Num filme de mais de 200 minutos, a criação de barrigas narrativas ou blocos em defasagem rítmica é comum, e até esperada. E a culpa disso tudo em momento algum pode recair sobre a efervescente e brutal performance de Al Pacino, ou sobre a cirúrgica direção de Martin Scorsese ou até mesmo sobre o ávido roteiro de Steven Zaillian. O diretor tem total liberdade poética para contar a história que quiser, da maneira que achar mais adequada, porém, essas escolhas nem sempre reverberam imaculadas no produto final.
Falando em produto final, O lrlandês é um incisivo manifesto da Netflix frente à Velha Hollywood e aos padrões do passado. O filme, assim como seu diretor, acumula excessos. A produção mais cara da empresa, com um orçamento de 175 milhões de dólares, que ultrapassa o cheque de blockbusters deste ano, como o Homem Aranha, que custou ‘apenas’ 160. Adendo a isso, exibições especiais ocorreram ao redor do mundo em cinemas selecionados, tudo isso para chegar com os dois pés na porta nas premiações do início do ano. E, como se já não bastasse, Scorsese investiu pesado numa tecnologia de computação gráfica, de-aging, para rejuvenescer suas estrelas da terceira idade.

O que verdadeiramente incomoda nas três horas e meia de O Irlandês é o monstruoso descaso no tratamento das mulheres que orbitam a trama. A personagem de Anna Paquin atua com os olhos, e sua participação se limita a sete palavras ditas nesse tempo de filme. Martin Scorsese já mostrou total desinteresse a apresentar e trabalhar personas femininas em suas tramas, e quando colocamos em números a efetiva parcela delas que compõem suas obras, o resultado beira o absurdo, o ridículo e ademais, o revoltante.
No outro gume da faca, é preferível que um diretor não insira mulheres em suas obras em vez de criar figuras problemáticas, falhas ou que perpetuem clichês e preconceitos. Não há defesa para a borracha que Scorsese passa por sobre figuras femininas em O Irlandês e apenas sua escolha de não representá-las já diz muito sobre seu papel como cineasta em 2019 e ainda mais sobre os recentes movimentos feministas que borbulharam Hollywood.

A escolha de dar início a O Irlandês numa tomada longa que rasteja pelos corredores de um asilo é alicerce da história que Scorsese conta. Rimando com as ideias que o diretor já explorou anos atrás com Os Bons Companheiros, agora o legado é revisto na ótica da velhice, da solidão e do anonimato. Quando, perto dos minutos finais da produção, o personagem de De Niro fica em silêncio quando perguntado ‘quem está protegendo, já que depois de todos esses anos, todos a seu redor morreram’, o filme grita alto sua mensagem. O silêncio de Sheeran amarga um presente sólido, bruto, sem cor.
Martin Scorsese investe numa melancolia não usual aos momentos de glória que filmou ao longo de sua extensa carreira. Mas esse fator não deve ser enxergado com estranheza ou inquietude. Scorsese, assim como seus mafiosos e gângsters, também envelheceu. E é lógico e natural que um homem com essa bagagem e referência verse sobre a vida, a morte, o legado dos homens e onde eles vão a partir daqui.
Mesmo que essa leitura de mundo venha munida de uma carga extremamente cômoda para um diretor que sempre inovou ao fazer cinema, o trabalho de Scorsese em O Irlandês é válido, louvável e digno de louros e louvor. As entranhas da máfia sempre foram alimento de café-da-manhã para Martin e, chegar a seu filme mais longo e importante do século XXI ainda remexendo nesses elementos, revela que O Irlandês é muito mais um primor tardio do que qualquer outra coisa.
