
Nilo Vieira
A popularidade talvez seja o único aspecto inquestionável nas discussões sobre o Nirvana, a banda que uniu todas as tribos, em 2017. Apesar do status de clássico, Nevermind (1991) permanece um álbum mais discutido do que ouvido: revolucionou o rock ou é um plágio superestimado de antecessoras menos conhecidas? E o tal grunge, foi movimento ou só rótulo da MTV?
No centro dessas discussões – carregadas de dicotomias fatalistas – está a figura de Kurt Cobain. Mesmo falecido há décadas, a figura do loiro canhoto de voz rouca ainda se mostra bastante vendável; e tome registros caça-níquel, leilões mórbidos e o que mais pintar pra sugar o defunto. Um artista que morreu agonizado com a fama messiânica, diga-se de passagem. Nada mais natural, então, do que desconfiar que a exposição Nirvana: Taking Punk to The Masses pudesse ser só mais um item de luxo nesse cenário sanguessuga.
Uma visita ao parque do Ibirapuera em São Paulo (onde a mostra permanece até o dia 12 de dezembro deste ano) provou não ser o caso. É provável que Cobain não gostasse da ideia de ter roupas suas expostas como algo histórico, mas a seleção de outros itens como fitas demo, setlists e destroços de instrumentos quiçá fosse de seu agrado. Em tempos de debates inflamados sobre o que é ou deixa de ser arte, relembrar que até sucata pode fazer parte da história é uma ode contra o elitismo. É popular, raíz. Punk, acima de tudo – como o próprio Kurt.

O maior acerto da curadoria, porém, é recordar que Nirvana não se resumiu a “Smells Like Teen Spirit”, Nevermind ou dramas da família Cobain. Fazendo jus ao nome, a exposição recorda o próprio surgimento da estética do it yourself do rock underground em murais e vídeos, com comentários de nomes seminais de diferentes cenas nos Estados Unidos. Os painéis com discos merecem destaque especial, com amplos panoramas ilustrados por seleções precisas de canções.
Apenas uma hora de duração não bastou para desfrutar tudo ali – como resistir à tentação de passar dez minutos só no cenário do clássico Acústico MTV? -, mas o investimento se mostrou correto. Mais do que guia da história do trio de Aberdeen ou uma chance de ouvir bandas diferentes, Taking Punk to the Masses serve como jornada ao centro de um fenômeno popular. E não falo do próprio Nirvana. Eles podem ter sido a explosão perfeita para uma era mas, acima de tudo, souberam catalisar ensinamentos de um movimento muito amplo e traduzi-los maneira criativa, sem perder o apelo às raízes. As palavras do baixista Krist Novoselic não poderiam ser mais precisas: acima de revoluções, tratava-se de uma banda evolutiva.

Philip Glass… on the grass?
Agora restava esperar pela segunda parte da programação daquele domingo, o show Philip Glass 80 + Piano. Um dos principais nomes da música erudita contemporânea, Glass se consolidou como expoente do gênero minimalismo ao lado de nomes como Steve Reich e Arvo Pärt. Sua carreira inclui colaborações com David Bowie, Aphex Twin e Marisa Monte, dentre incontáveis outros, além de trilhas sonoras conceituadas.
Popular não me parecia uma palavra aplicável a Glass, embora o músico desfrute de maior fama em relação a contemporâneos. Talvez o teor canônico que envolve tudo acerca da famigerada música clássica tenha transformado o adjetivo em uma ofensa – o velho papo de Bordieu sobre a construção social dos gosto.
Essa impressão foi embora no momento em que, após a insistência do camarada Lucas Marques, aceitei assistir ao concerto sentado na grama. Oras, como assim, ver um pianista renomado de pé deveria ser pré-requisito…

Ao nível do chão, percebi que havia feito confusão semântica. Philip Glass pode não ser mainstream, mas sua música não deixa de ter forte apelo popular. A começar pelo formato do show que, além do próprio, incluiu apresentações de quatro pianistas (Ricardo Castro, Heloísa Fernandes, Jenny Lin e Maki Namekawa) interpretando suas obras. Juntar nomes fortes dos dois lados do oceano – pra tocar piano em um espetáculo gratuito! – não podia ser resultado de apenas bons contatos.
Valia a pena dividir a atenção ente o palco e o público. Ali perto de onde estávamos, um casal brincava com seu bebê no ritmo das teclas, uma moça só abria os olhos na hora de aplaudir e um rapaz ficou com as pernas dormentes, buscando a melhor posição para enxergar os músicos. Enquanto trocava piadas e perguntas com o senhor Marques, reparei que meu celular era dos mais ativos na região; e isso porque só o ligava para tirar uma foto ao fim de cada ato, mais pelo registro do que qualquer coisa.
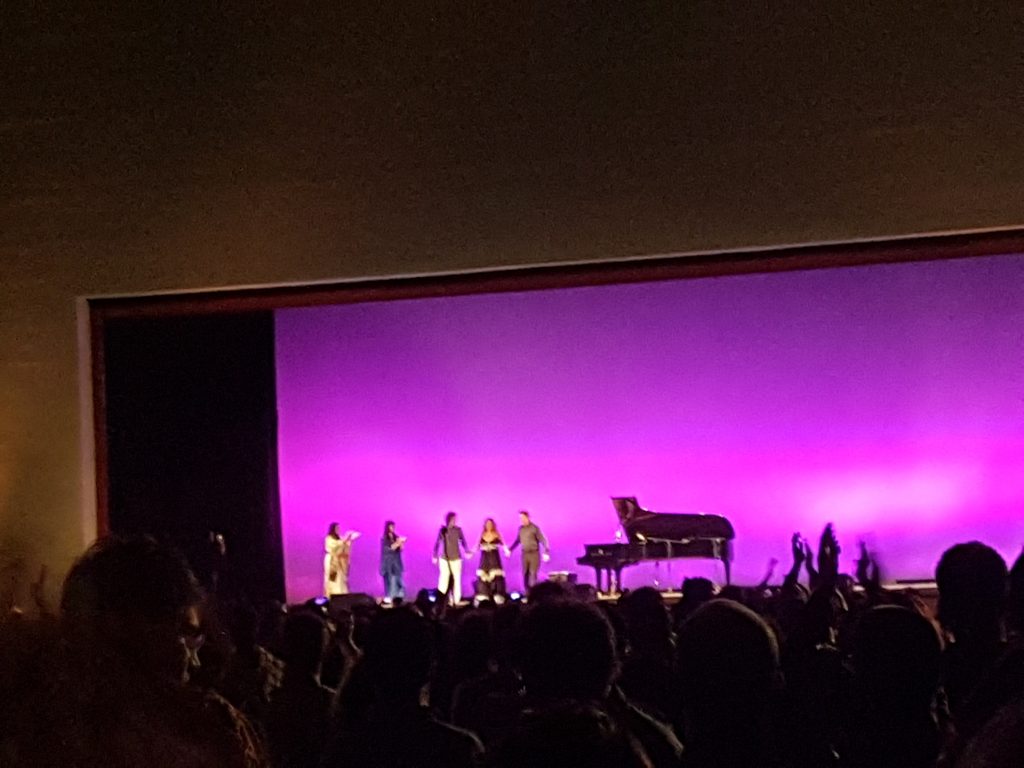
De modos distintos, todos os presentes pareciam estar em comunhão com o que saía das caixas de som. Os nomes dos intérpretes ou das peças pouco importavam: ao tom da primeira nota, o silêncio se tornava quase lei no auditório externo do Ibirapuera. Discutir a trajetória de Glass ou tentar explicar as nuances dos subgêneros atribuídos à sua música não era prioridade. A experiência única ali proposta, sim.
Na corrida de volta para o metrô (que incluiu a perda de duas viagens no Uber), o público pareceu triplicar. Dentre os comentários que pesquei, nenhuma crítica foi detectada. A ideia de que apenas uma elite era capaz de fruir o que havia sido oferecido na programação daquele dia foi ralo abaixo, e lembrei de um comentário de Hugo Wilcken em seu livro sobre Low (1977): quando artistas dão acento pop a vanguardas complexas, eles as legitimam para um público maior. Fica a esperança de que a crença de que popular não é, por natureza, pasteurizado ou banal caia por terra cada vez mais. Punk ou erudito, tudo é possível e passível de criatividade acentuada – mesmo em um domingo qualquer no parque.
